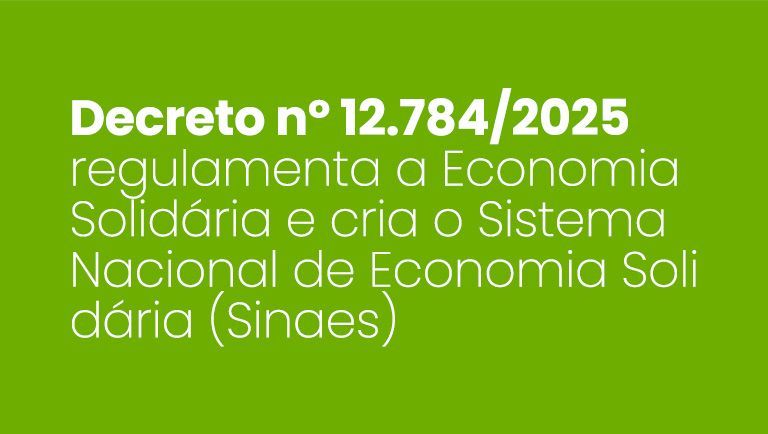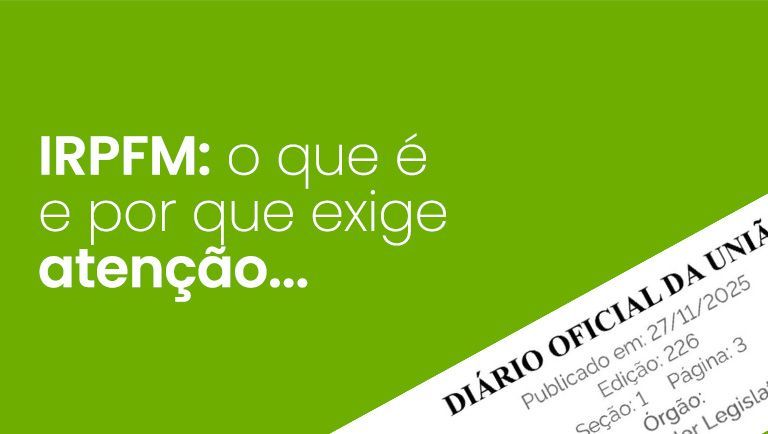ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR: PRÁTICAS CONTÁBEIS
INTRODUÇÃO
Abordamos neste procedimento, as práticas contábeis aplicáveis às entidades do terceiro setor tomando por base as análises e sugestões apresentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a Fundação Brasileira de Contabilidade e a Academia Brasileira de Ciências Contábeis através do Caderno de procedimentos aplicáveis à prestação de contas das entidades do terceiro setor (fundações), com o objetivo de orientar aos contadores das referidas instituições, e contribuir para maior transparência das entidades do terceiro setor, promovendo auxílio para a gestão eficiente dos recursos públicos e para a devida prestação de contas dessas entidades.
A referida análise conjunta tem como foco, em especial:
a) Receita de Doações;
b) Trabalho Voluntário;
c) Imunidades e Isenções;
d) Receita de Convênios e Contrapartida de Convênios, e
e) Gratuidade.
Ressaltamos que, aplicam-se às entidades sem finalidade de lucros a NBC TG 00 – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis e as demais Normas Brasileiras de Contabilidade e suas Interpretações Técnicas, Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.
RECEITA DE DOAÇÕES
As receitas de doações são constituídas de ingressos de ativo não oneroso. O Manual de Procedimentos Contábeis e Prestação de Contas das Entidades de Interesse Social (2004) ao tratar de doações no Capítulo 5.1 declara:
“Considera-se a doação uma promessa ou uma transferência de dinheiro ou outros ativos para uma entidade, ou um cancelamento de um passivo, sem a necessidade de uma contrapartida.”
E ainda que, “uma doação pode ser condicional ou incondicional: incondicional, quando o doador não impõe nenhuma condição a ser cumprida pela entidade; condicional, sujeita ao cumprimento de certas obrigações por parte da entidade donatária. A utilização dessa classificação é importante para o usuário externo, devendo constar do Plano de Contas da entidade.”
O reconhecimento de doações deve ser precedido dos procedimentos de identificação e mensuração.
“Considera-se a doação uma promessa ou uma transferência de dinheiro ou outros ativos para uma entidade, ou um cancelamento de um passivo, sem a necessidade de uma contrapartida.”
E ainda que, “uma doação pode ser condicional ou incondicional: incondicional, quando o doador não impõe nenhuma condição a ser cumprida pela entidade; condicional, sujeita ao cumprimento de certas obrigações por parte da entidade donatária. A utilização dessa classificação é importante para o usuário externo, devendo constar do Plano de Contas da entidade.”
O reconhecimento de doações deve ser precedido dos procedimentos de identificação e mensuração.
A identificação deve ser exercida para conhecimento da natureza do bem que ingressa no ativo em condição não onerosa ou a extinção de um passivo que deixou de ser exigível. O passo seguinte é proceder à mensuração do ativo ou do passivo para quantificar o valor da receita.
A mensuração do ativo deve levar em conta o valor que deveria ser desembolsado para aquisição do bem objeto da doação. A mensuração do passivo que se tornou não exigível deve considerar o próprio valor que deveria ser desembolsado para sua liquidação.
A extinção de passivo tributário objeto de isenção e ou imunidade é tratado em separado.
A identificação deve ser exercida para conhecimento da natureza do bem que ingressa no ativo em condição não onerosa ou a extinção de um passivo que deixou de ser exigível. O passo seguinte é proceder à mensuração do ativo ou do passivo para quantificar o valor da receita.
A mensuração do ativo deve levar em conta o valor que deveria ser desembolsado para aquisição do bem objeto da doação. A mensuração do passivo que se tornou não exigível deve considerar o próprio valor que deveria ser desembolsado para sua liquidação.
A extinção de passivo tributário objeto de isenção e ou imunidade é tratado em separado.
As doações podem ser recebidas para custeio ou investimento. Em quaisquer das formas as doações podem ser in natura ou em espécie. Quando in natura, os bens doados podem ter valor declarado ou não. Se o doador preferir não declarar o valor do bem doado, é necessário que a Entidade estime o valor com base nos preços cobrados pelo mercado. Assim, se a entidade recebe arroz, feijão, óleo comestível e farinha, por exemplo, deve valorar as quantidades recebidas pelo valor que esta desembolsaria se fizesse a aquisição no mercado. O modo natural de obter os preços é pesquisar em supermercado o bem recebido ou gênero semelhante e produzir documento apto para registro.
Mensuração de doação de gêneros alimentícios recebidos
Produtos recebidos
Quantidade
Parâmetro unitário
Valor estimado
Feijão mulatinho
100 kg
2,00
200,00
Arroz tipo 1
200 kg
3,00
600,00
Farinha
10 cx
5,00
50,00
Óleo de soja
20 lt
5,00
100,00
Valor total das doações
950,00
A precificação desse tipo de bem pode ser mais simples do que a de serviços, contudo é necessário que haja pesquisa de mercado para obtenção do preço dos produtos, caso o doador não entregue documento de aquisição.
As doações podem ser recebidas para custeio ou investimento. Em quaisquer das formas as doações podem ser in natura ou em espécie. Quando in natura, os bens doados podem ter valor declarado ou não. Se o doador preferir não declarar o valor do bem doado, é necessário que a Entidade estime o valor com base nos preços cobrados pelo mercado. Assim, se a entidade recebe arroz, feijão, óleo comestível e farinha, por exemplo, deve valorar as quantidades recebidas pelo valor que esta desembolsaria se fizesse a aquisição no mercado. O modo natural de obter os preços é pesquisar em supermercado o bem recebido ou gênero semelhante e produzir documento apto para registro.
Mensuração de doação de gêneros alimentícios recebidos
| Produtos recebidos | Quantidade | Parâmetro unitário | Valor estimado |
| Feijão mulatinho | 100 kg | 2,00 | 200,00 |
| Arroz tipo 1 | 200 kg | 3,00 | 600,00 |
| Farinha | 10 cx | 5,00 | 50,00 |
| Óleo de soja | 20 lt | 5,00 | 100,00 |
| Valor total das doações | 950,00 |
A precificação desse tipo de bem pode ser mais simples do que a de serviços, contudo é necessário que haja pesquisa de mercado para obtenção do preço dos produtos, caso o doador não entregue documento de aquisição.
O reconhecimento contábil deve ser procedido nas rubricas específicas de cada natureza de bem, utilizando a titulação e função adequada de cada conta. Neste caso, as contas de aplicação são também contas de despesas, pois a finalidade é o custeio no consumo imediato.
Considerando que a transação tenha ocorrido em data fictícia, por exemplo, em 2 de junho de 2011, os registros contábeis seriam processados:
Reconhecimento contábil simultâneo da despesa e da receita
Data
Título da conta
Débito
Crédito
Histórico
2/6/2011
Despesa suprimento alimentação
950,00
–
Doção de alimentos
2/6/2011
Receita de doação
–
950,00
Doação de alimentos
Valor total das doações
950,00
950,00
–
A titulação da conta deve obedecer ao elenco de contas utilizado pela Entidade. O Manual de Procedimentos Contábeis e Prestação de Contas das Entidades de Interesse Social (2004) sugere um elenco de contas que poderá ser utilizado, caso a Entidade entenda que aquelas titulações lhe atendam.
O reconhecimento contábil deve ser procedido nas rubricas específicas de cada natureza de bem, utilizando a titulação e função adequada de cada conta. Neste caso, as contas de aplicação são também contas de despesas, pois a finalidade é o custeio no consumo imediato.
Considerando que a transação tenha ocorrido em data fictícia, por exemplo, em 2 de junho de 2011, os registros contábeis seriam processados:
Reconhecimento contábil simultâneo da despesa e da receita
| Data | Título da conta | Débito | Crédito | Histórico | ||
| 2/6/2011 | Despesa suprimento alimentação | 950,00 | – | Doção de alimentos | ||
| 2/6/2011 | Receita de doação | – | 950,00 | Doação de alimentos | ||
| Valor total das doações | 950,00 | 950,00 | – | |||
A titulação da conta deve obedecer ao elenco de contas utilizado pela Entidade. O Manual de Procedimentos Contábeis e Prestação de Contas das Entidades de Interesse Social (2004) sugere um elenco de contas que poderá ser utilizado, caso a Entidade entenda que aquelas titulações lhe atendam.
Se a doação recebida for em espécie ou em bens duráveis, o reconhecimento deve ser processado a débito de conta de disponibilidade e ou de ativo não circulante que represente a existência recebida e a crédito de conta de receita de doação.
Se a doação recebida for em espécie ou em bens duráveis, o reconhecimento deve ser processado a débito de conta de disponibilidade e ou de ativo não circulante que represente a existência recebida e a crédito de conta de receita de doação.
3 – TRABALHO VOLUNTÁRIO
Voluntários são pessoas que se dedicam a causas individuais e coletivas, contribuindo com seu trabalho pessoal, de forma organizada, tendo como remuneração o prazer de servir ao semelhante e à sociedade, de forma dativa.
O voluntário deve submeter-se a algumas formalidades necessárias à adequação jurídica do seu trabalho, como, por exemplo, assinar um termo de trabalho voluntário, indicando como contribuição o trabalho que será realizado na condição de voluntário, e por isso, sem remuneração.
Por serem as entidades de interesse social, entidades juridicamente organizadas, os recursos por elas obtidos para serem colocados à disposição dos assistidos devem ser formalizados como em qualquer outra entidade jurídica. Isto deve ocorrer para segurança dessas entidades, pois, na conformidade legal, todos os recursos obtidos devem ter a fonte identificada.
Assim como as doações, o trabalho voluntário pode ser utilizado para o custeio ou para investimento. Para custeio, o trabalho voluntário pode ser representado por serviço de saúde, por exemplo. Para investimento, o trabalho voluntário pode ser representado por serviço agregado na construção civil.
a) Trabalho voluntário utilizado como investimento: Há circunstâncias em que trabalho voluntário e doações são recebidos com a finalidade de serem agregados ao patrimônio da entidade. Situações comuns desse tipo de ocorrência são construções de abrigos ou acomodações administrativas e de apoio.
O trabalho voluntário típico dessa ocorrência é o de servente, pedreiro, mestre de obra e de engenheiro, situação em que a doação é representada por material de construção, como cimento, ferro, tijolo, areia, brita e outros. A soma desses esforços, material de construção e trabalho voluntário resulta na edificação de unidade imobiliária que é incorporada ao patrimônio da entidade.
Mensuração de material de construção e trabalho voluntário na edificação de abrigo
Produtos recebidos
Quantidade
Parâmetro unitário
Valor estimado
Tijolo de 8 furos
2 mil
200,00
400,00
Ferro de 5/16
500 kg
5,00
2.500,00
Cimento
100 sacos
20,00
2.000,00
Brita
2 caminhões
200,00
400,00
Areia lavada
4 caminhões
200,00
800,00
Serviço de pedreiro
100 horas
30,00
3.000,00
Serviço de servente
100 horas
15,00
1.500,00
Serviço engenheiro
50 horas
100,00
5.000,00
Soma das transações
15.600,00
O reconhecimento contábil, nesse caso, deve ser processado na conta de construção em andamento, tendo em vista não se tratar de bens de consumo imediato, e, sim, de um bem permanente que será utilizado ao longo da existência da entidade. Assim, considerando que a transação tenha ocorrido no dia 30 de julho de 2011, os registros contábeis seriam processados.
O trabalho voluntário típico dessa ocorrência é o de servente, pedreiro, mestre de obra e de engenheiro, situação em que a doação é representada por material de construção, como cimento, ferro, tijolo, areia, brita e outros. A soma desses esforços, material de construção e trabalho voluntário resulta na edificação de unidade imobiliária que é incorporada ao patrimônio da entidade.
Mensuração de material de construção e trabalho voluntário na edificação de abrigo
| Produtos recebidos | Quantidade | Parâmetro unitário | Valor estimado |
| Tijolo de 8 furos | 2 mil | 200,00 | 400,00 |
| Ferro de 5/16 | 500 kg | 5,00 | 2.500,00 |
| Cimento | 100 sacos | 20,00 | 2.000,00 |
| Brita | 2 caminhões | 200,00 | 400,00 |
| Areia lavada | 4 caminhões | 200,00 | 800,00 |
| Serviço de pedreiro | 100 horas | 30,00 | 3.000,00 |
| Serviço de servente | 100 horas | 15,00 | 1.500,00 |
| Serviço engenheiro | 50 horas | 100,00 | 5.000,00 |
| Soma das transações | 15.600,00 |
O reconhecimento contábil, nesse caso, deve ser processado na conta de construção em andamento, tendo em vista não se tratar de bens de consumo imediato, e, sim, de um bem permanente que será utilizado ao longo da existência da entidade. Assim, considerando que a transação tenha ocorrido no dia 30 de julho de 2011, os registros contábeis seriam processados.
Reconhecimento contábil do investimento produzido por doação e trabalho voluntário
Data
Título da conta
Débito
Crédito
Histórico
30072011
Construção em Andamento
6.100,00
–
Material construção
30072011
Receita de Doação
6.100,00
Material construção
30072011
Construção em Andamento
9.500,00
–
Trabalho voluntário
30072011
Receita de Trabalho Voluntário
9.500,00
Trabalho voluntário
b) Trabalho
voluntário utilizado como custeio: O trabalho voluntário carece de definição de parâmetros para quantificação do valor unitário, seja por hora, por tarefa ou outra medida provida de fundamentação. Uma das formas que pode ser utilizada é a adoção de procedimento empírico, vivenciado na prática de entidades do gênero. Nesse experimento, deve-se processar o valor dativo utilizando-se sugestão de parâmetros de profissão organizada, quando o trabalho for de natureza profissional, ou com base no preço de mercado, quando este não for de profissão organizada ou for mais adequado. Quaisquer que sejam as formas utilizadas para mensuração, há necessidade de organização de memória de cálculo.
Reconhecimento contábil do investimento produzido por doação e trabalho voluntário
| Data | Título da conta | Débito | Crédito | Histórico | |
| 30072011 | Construção em Andamento | 6.100,00 | – | Material construção | |
| 30072011 | Receita de Doação | 6.100,00 | Material construção | ||
| 30072011 | Construção em Andamento | 9.500,00 | – | Trabalho voluntário | |
| 30072011 | Receita de Trabalho Voluntário | 9.500,00 | Trabalho voluntário | ||
b) Trabalho voluntário utilizado como custeio: O trabalho voluntário carece de definição de parâmetros para quantificação do valor unitário, seja por hora, por tarefa ou outra medida provida de fundamentação. Uma das formas que pode ser utilizada é a adoção de procedimento empírico, vivenciado na prática de entidades do gênero. Nesse experimento, deve-se processar o valor dativo utilizando-se sugestão de parâmetros de profissão organizada, quando o trabalho for de natureza profissional, ou com base no preço de mercado, quando este não for de profissão organizada ou for mais adequado. Quaisquer que sejam as formas utilizadas para mensuração, há necessidade de organização de memória de cálculo.
Casos comuns de oferta de trabalho voluntário são os serviços de saúde, serviços contábeis, serviços jurídicos e serviços de limpeza. Nesses segmentos de serviço, há parâmetro disponível para valorar o preço do trabalho, pois o médico cobra consulta; o contador e o advogado têm parâmetros de cobrança para estimar o valor de seus honorários; o serviço de limpeza tem valor de diária.
Mensuração do trabalho profissional voluntário por categoria profissional
Serviço voluntário
Unidade de tempo
Parâmetro unitário
Valor estimado
Serviços médicos
10 horas
100,00
1.000,00
Serviços odontológicos
30 horas
100,00
3.000,00
Serviços contábeis
100 horas
100,00
10.000,00
Serviços de limpeza
120 horas
50,00
6.000,00
Serviços jurídicos
20 horas
100,00
2.000,00
Valor total do trabalho voluntário
22.000,00
Qualquer que seja o parâmetro para quantificação do valor financeiro, deve ser utilizado o valor que seria pago se o trabalho fosse remunerado, devendo refletir o valor justo, pois esse seria o valor a ser despendido para obtenção dos serviços.
A partir da mensuração do valor do trabalho, deve ser procedido o reconhecimento contábil nas rubricas específicas de cada natureza de serviço, utilizando a titulação e a função adequada de cada conta utilizada pela entidade. No caso específico, as contas a serem utilizadas são contas de despesas, pois a natureza dos serviços é de custeio.
Casos comuns de oferta de trabalho voluntário são os serviços de saúde, serviços contábeis, serviços jurídicos e serviços de limpeza. Nesses segmentos de serviço, há parâmetro disponível para valorar o preço do trabalho, pois o médico cobra consulta; o contador e o advogado têm parâmetros de cobrança para estimar o valor de seus honorários; o serviço de limpeza tem valor de diária.
Mensuração do trabalho profissional voluntário por categoria profissional
| Serviço voluntário | Unidade de tempo | Parâmetro unitário | Valor estimado |
| Serviços médicos | 10 horas | 100,00 | 1.000,00 |
| Serviços odontológicos | 30 horas | 100,00 | 3.000,00 |
| Serviços contábeis | 100 horas | 100,00 | 10.000,00 |
| Serviços de limpeza | 120 horas | 50,00 | 6.000,00 |
| Serviços jurídicos | 20 horas | 100,00 | 2.000,00 |
| Valor total do trabalho voluntário | 22.000,00 |
Qualquer que seja o parâmetro para quantificação do valor financeiro, deve ser utilizado o valor que seria pago se o trabalho fosse remunerado, devendo refletir o valor justo, pois esse seria o valor a ser despendido para obtenção dos serviços.
A partir da mensuração do valor do trabalho, deve ser procedido o reconhecimento contábil nas rubricas específicas de cada natureza de serviço, utilizando a titulação e a função adequada de cada conta utilizada pela entidade. No caso específico, as contas a serem utilizadas são contas de despesas, pois a natureza dos serviços é de custeio.
Considerando que a transação tenha ocorrido no dia 20 de agosto de 2011, os registros contábeis seriam processados.
Reconhecimento contábil de trabalho voluntário aplicado no custeio
Data
Título da conta
Débito
Crédito
Histórico
20/8/2011
Despesa serviços médicos
1.000,00
–
Serviço voluntário
20/8/2011
Receita de Trabalho Voluntário
–
1.000,00
Serviço voluntário
20/8/2011
Despesa serviços odontológicos
3.000,00
–
Serviço voluntário
20/8/2011
Receita de Trabalho Voluntário
–
3.000,00
Serviço voluntário
20/8/2011
Despesa serviços contábeis
10.000,00
–
Serviço voluntário
20/8/2011
Receita de Trabalho Voluntário
–
10.000,00
Serviço voluntário
20/8/2011
Despesa serviços limpeza
6.000,00
–
Serviço voluntário
20/8/2011
Receita de Trabalho Voluntário
–
6.000,00
Serviço voluntário
20/8/2011
Despesa serviços jurídicos
2.000,00
–
Serviço voluntário
20/8/2011
Receita de Trabalho Voluntário
–
2.000,00
Serviço voluntário
Soma das transações
22.000,00
22.000,00
–
Com este procedimento, a entidade registra, simultaneamente, a aplicação na despesa de custeio e a fonte em receita de trabalho voluntário.
Considerando que a transação tenha ocorrido no dia 20 de agosto de 2011, os registros contábeis seriam processados.
Reconhecimento contábil de trabalho voluntário aplicado no custeio
| Data | Título da conta | Débito | Crédito | Histórico |
| 20/8/2011 | Despesa serviços médicos | 1.000,00 | – | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Receita de Trabalho Voluntário | – | 1.000,00 | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Despesa serviços odontológicos | 3.000,00 | – | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Receita de Trabalho Voluntário | – | 3.000,00 | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Despesa serviços contábeis | 10.000,00 | – | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Receita de Trabalho Voluntário | – | 10.000,00 | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Despesa serviços limpeza | 6.000,00 | – | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Receita de Trabalho Voluntário | – | 6.000,00 | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Despesa serviços jurídicos | 2.000,00 | – | Serviço voluntário |
| 20/8/2011 | Receita de Trabalho Voluntário | – | 2.000,00 | Serviço voluntário |
| Soma das transações | 22.000,00 | 22.000,00 | – |
Com este procedimento, a entidade registra, simultaneamente, a aplicação na despesa de custeio e a fonte em receita de trabalho voluntário.
4 – IMUNIDADES E ISENÇÕES
O Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/66 – CTN), no Art. 176, define isenção como sendo:
“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.”
O Pronunciamento Técnico CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamentais aborda
isenção como sendo: “Isenção tributária é a dispensa legal do pagamento de tributo sob quaisquer formas jurídicas (isenção, imunidade, etc).”
A Constituição Federal, no Art. 150 – VI, ao referir-se à imunidade, estabelece que:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI – instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.”
Dessa forma, observa-se que a imunidade é constitucional (permanente) e a isenção é temporária, pois depende de Lei e é consequência da vontade do legislador. Contudo, tanto a imunidade quanto a isenção para serem mantidas dependem do cumprimento de obrigações acessórias e do não desvirtuamento das condições que permitiram sua concessão.
Neste sentido, a Lei n.º 9.532/1997, disciplina em seus Arts. 12 e 13 a questão da imunidade e da isenção fiscal para as entidades de fins sociais, nos seguintes termos:
1) considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos;
Obs.: Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
2) consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
Obs.: A isenção a qui referida, é exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido.
Ainda segundo a Lei n.º 9.532/1997, para o gozo da imunidade, as instituições de fins sociais estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
Dessa forma, observa-se que a imunidade é constitucional (permanente) e a isenção é temporária, pois depende de Lei e é consequência da vontade do legislador. Contudo, tanto a imunidade quanto a isenção para serem mantidas dependem do cumprimento de obrigações acessórias e do não desvirtuamento das condições que permitiram sua concessão.
Neste sentido, a Lei n.º 9.532/1997, disciplina em seus Arts. 12 e 13 a questão da imunidade e da isenção fiscal para as entidades de fins sociais, nos seguintes termos:
1) considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos;
Obs.: Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
2) consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos.
Obs.: A isenção a qui referida, é exclusivamente, em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido.
Ainda segundo a Lei n.º 9.532/1997, para o gozo da imunidade, as instituições de fins sociais estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Reconhecimento da isenção ou a imunidade tributária concedida às fundações e demais entidades de interesse social
Na falta de norma específica sobre o assunto, pode-se adotar, por similitude, a orientação do
CPC 07 (item 13-c) que assim se manifesta, inclusive na definição dos institutos abordados:
“13. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes principais argumentos:
(c) Assim como os tributos são lançados no resultado, é lógico registrar a subvenção governamental, que é, em essência, uma extensão da política fiscal na demonstração do resultado.”
Assim, como exemplo, as entidades que gozem dos benefícios da isenção e da imunidade tributária devem reconhecer, para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devidos fossem conforme exposto abaixo:
1. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
DÉBITO: Despesa de Imposto de Renda (Conta de Resultado)
CRÉDITO: Imposto de Renda – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
2. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Reconhecimento da isenção ou a imunidade tributária concedida às fundações e demais entidades de interesse social
Na falta de norma específica sobre o assunto, pode-se adotar, por similitude, a orientação do
CPC 07 (item 13-c) que assim se manifesta, inclusive na definição dos institutos abordados:
“13. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes principais argumentos:
(c) Assim como os tributos são lançados no resultado, é lógico registrar a subvenção governamental, que é, em essência, uma extensão da política fiscal na demonstração do resultado.”
Assim, como exemplo, as entidades que gozem dos benefícios da isenção e da imunidade tributária devem reconhecer, para cada tributo, a despesa e o passivo tributário como se devidos fossem conforme exposto abaixo:
1. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
DÉBITO: Despesa de Imposto de Renda (Conta de Resultado)
CRÉDITO: Imposto de Renda – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
2. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
DÉBITO: CSLL (Conta de Resultado)
CRÉDITO: CSLL – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
3. Imposto sobre Produtos Industrializados
DÉBITO: IPI (Conta de Resultado)
CRÉDITO: IPI – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
4. Imposto de Importação
DÉBITO: Imposto de Importação (Conta de Resultado)
CRÉDITO: Imposto de Importação – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
5. Contribuição para Previdência Social
DÉBITO: Previdência Social (Conta de Resultado)
CRÉDITO: Previdência Social – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
6. ISSQN
DÉBITO: ISSQN (Conta de Resultado)
CRÉDITO: ISSQN – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
A baixa do passivo tributário de exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade ou isenção
Verificado o cumprimento das condições exigidas para o gozo do benefício tributário, o passivo deve ser baixado contra conta de resultado, como mostra o quadro 9.
1. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
DÉBITO: CSLL (Conta de Resultado)
CRÉDITO: CSLL – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
3. Imposto sobre Produtos Industrializados
DÉBITO: IPI (Conta de Resultado)
CRÉDITO: IPI – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
4. Imposto de Importação
DÉBITO: Imposto de Importação (Conta de Resultado)
CRÉDITO: Imposto de Importação – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
5. Contribuição para Previdência Social
DÉBITO: Previdência Social (Conta de Resultado)
CRÉDITO: Previdência Social – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
6. ISSQN
DÉBITO: ISSQN (Conta de Resultado)
CRÉDITO: ISSQN – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
A baixa do passivo tributário de exigibilidade suspensa objeto do benefício da imunidade ou isenção
Verificado o cumprimento das condições exigidas para o gozo do benefício tributário, o passivo deve ser baixado contra conta de resultado, como mostra o quadro 9.
1. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
DÉBITO: Imposto de Renda – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – IRPJ (Conta de Resultado)
2. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
DÉBITO: CSLL – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – CSLL (Conta de Resultado)
3. Imposto sobre Produtos Industrializados
DÉBITO: IPI – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – IPI (Conta de Resultado)
4. Imposto de Importação
DÉBITO: Imposto de Importação – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – II (Conta de Resultado)
5. Contribuição para Previdência Social
DÉBITO: Previdência Social – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – Prev Social (Conta de Resultado)
6. ISSQN
DÉBITO: ISSQN – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – ISSQN (Conta de Resultado)
A entidade poderá presumir que as condições para gozo do benefício estão satisfeitas e, com base nessa presunção, utilizar-se da essência econômica sobre a forma para extinguir o passivo tributário, antecipando-se à homologação do tributo, fazendo coincidir no mesmo período a despesa tributária e o benefício da isenção e da imunidade.
Entretanto, deve-se acompanhar o ato da autoridade tributária homologando o tributo, extinguindo o crédito tributário, reconhecendo que a entidade satisfez às condições para fruição do tributo respectivo.
DÉBITO: Imposto de Renda – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – IRPJ (Conta de Resultado)
2. Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
DÉBITO: CSLL – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – CSLL (Conta de Resultado)
3. Imposto sobre Produtos Industrializados
DÉBITO: IPI – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – IPI (Conta de Resultado)
4. Imposto de Importação
DÉBITO: Imposto de Importação – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – II (Conta de Resultado)
5. Contribuição para Previdência Social
DÉBITO: Previdência Social – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – Prev Social (Conta de Resultado)
6. ISSQN
DÉBITO: ISSQN – Exigibilidade Suspensa (Passivo)
CRÉDITO: Isenção e Imunidade Tributárias – ISSQN (Conta de Resultado)
A entidade poderá presumir que as condições para gozo do benefício estão satisfeitas e, com base nessa presunção, utilizar-se da essência econômica sobre a forma para extinguir o passivo tributário, antecipando-se à homologação do tributo, fazendo coincidir no mesmo período a despesa tributária e o benefício da isenção e da imunidade.
Entretanto, deve-se acompanhar o ato da autoridade tributária homologando o tributo, extinguindo o crédito tributário, reconhecendo que a entidade satisfez às condições para fruição do tributo respectivo.
5 – RECEITA DE CONVÊNIOS E CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS
Convênios são representados por instrumentos jurídicos em que cada parte tem obrigações na execução do seu objeto. Quando celebrado com a Administração Pública, o convênio não permite remuneração à entidade executora. Quando o convênio exigir contrapartida por parte da entidade executora, esta poderá ter caráter financeiro ou não. Tendo caráter financeiro, aporte de recursos deverá ser feito pela entidade executora na conta do convênio para completar a totalidade dos recursos quantificados no plano de trabalho. Se não tiver caráter financeiro, o instrumento de convênio deverá estabelecer de que forma a contrapartida poderá ser efetuada (pessoal, material, serviço de terceiros, outros).
Na ausência de norma específica, pode-se utilizar o que estabelece o CPC 07, item 14, que assim se expressa:
“14. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser em conta específica do passivo.
Dessa forma, a entidade executora deverá manter em sua contabilidade contas específicas com esquemas contábeis distintos para cada convênio que executar.”
Os registros dos recursos do convênio, a título de exemplo, estão demonstrados a seguir:
a) Reconhecimento de Recursos de Convênio
1. Entrada de Recursos financeiros na Contabilidade do Convênio
DÉBITO: Bancos (Conta de Disponibilidade do Convênio)
CRÉDITO: Recursos de Convênio (Passivo)
2. Realização da Despesa na Contabilidade do Convênio
DÉBITO: Despesa do Convênio (Resultado)
CRÉDITO: Bancos (Conta de Disponibilidade do Convênio)
3. Reconhecimento simultâneo da Receita do Convênio
DÉBITO: Recursos de Convênio (Passivo)
CRÉDITO: Receita do Convênio (Resultado)
b) Reconhecimento da Contrapartida de Recursos de Convênio
1 Contrapartida com Recursos financeiros na Contabilidade do Convênio
DÉBITO: Banco (Conta de Disponibilidade)
CRÉDITO: Recursos de Convênio (Passivo)
2 Contrapartida com Recursos Não Financeiros na Contabilidade do Convênio
DÉBITO: Despesa do Convênio (Conta Específica)
CRÉDITO: Recursos de Convênio (Receita de Convênio)
Com a realização da despesa do convênio, deve ser reconhecida a receita do convênio em igual valor:
Reconhecimento da Receita de Contrapartida do Convênio
1 Reconhecimento da Receita de Contrapartida na Contabilidade do Convênio
Debitar: Recursos de Convênio (Passivo)
Creditar: Receita do Convênio
Este procedimento contábil mostra que, a qualquer momento, a equação que mostra o equilíbrio das contas do convênio deve ser satisfeita (DespConv – RecConv = 0). Onde: DespConv = Despesa do Convênio e RecConv = Receita do Convênio.
Há de se compreender que a receita de contrapartida do convênio corresponde a uma despesa da entidade executora do convênio que deve ser registrada em rubrica contábil específica do resultado.
Assim, a entidade executora deverá manter registros por convênio referente à contrapartida financeira e não financeira em conta de resultado.
DÉBITO: Despesa do Convênio (Resultado)
CRÉDITO: Bancos (Conta de Disponibilidade do Convênio)
3. Reconhecimento simultâneo da Receita do Convênio
DÉBITO: Recursos de Convênio (Passivo)
CRÉDITO: Receita do Convênio (Resultado)
b) Reconhecimento da Contrapartida de Recursos de Convênio
1 Contrapartida com Recursos financeiros na Contabilidade do Convênio
DÉBITO: Banco (Conta de Disponibilidade)
CRÉDITO: Recursos de Convênio (Passivo)
2 Contrapartida com Recursos Não Financeiros na Contabilidade do Convênio
DÉBITO: Despesa do Convênio (Conta Específica)
CRÉDITO: Recursos de Convênio (Receita de Convênio)
Com a realização da despesa do convênio, deve ser reconhecida a receita do convênio em igual valor:
Reconhecimento da Receita de Contrapartida do Convênio
1 Reconhecimento da Receita de Contrapartida na Contabilidade do Convênio
Debitar: Recursos de Convênio (Passivo)
Creditar: Receita do Convênio
Este procedimento contábil mostra que, a qualquer momento, a equação que mostra o equilíbrio das contas do convênio deve ser satisfeita (DespConv – RecConv = 0). Onde: DespConv = Despesa do Convênio e RecConv = Receita do Convênio.
Há de se compreender que a receita de contrapartida do convênio corresponde a uma despesa da entidade executora do convênio que deve ser registrada em rubrica contábil específica do resultado.
Assim, a entidade executora deverá manter registros por convênio referente à contrapartida financeira e não financeira em conta de resultado.
6 – GRATUIDADES
É o desembolso financeiro de uma entidade, decorrente da prestação de serviço gratuito a pessoa carente, desde que atenda os objetivos previstos no Art. 2º da Lei n.º 8.742/93 (LOAS).
A comprovação da concessão da gratuidade, para fins de demonstração do percentual
aplicado, conforme determina o Decreto n.º 2.536/1998, será efetuada por meio de registro contábil, de forma a permitir a identificação nas demonstrações contábeis da entidade o montante aplicado em gratuidade.
As seguintes receitas serão consideradas como base para o cálculo do percentual de gratuidade, conforme a legislação em vigor:
a) receitas de serviços;
b) receitas de vendas de bens não integrantes do ativo imobilizado;
c) receitas de aplicações financeiras;
d) receitas de locação;
e) receitas de doações de particulares.
Dessa forma, a gratuidade é representada pela oferta não onerosa de bens tangíveis e intangíveis
a indivíduos, normalmente carentes, da comunidade a que a Entidade de Interesse Social se destina a atender. Outros exemplos frequentes de gratuidade são a oferta de serviço de saúde, serviço de educação, serviço de assistência social, distribuição de medicamentos, distribuição de vestuário entre outros. A gratuidade ocorre, em determinadas circunstâncias, como contrapartida legal de benefícios que a entidade de Interesse Social recebe. Exemplo desses benefícios legais são as isenções de tributos mediante renúncia fiscal do Estado.
É por demais relevante a mensuração justa do custo da gratuidade. Para os bens tangíveis, o custo da gratuidade deve corresponder ao valor de entrada, ou seja, o custo de desembolso dos bens ofertados. Para os bens intangíveis, o custo deve corresponder o valor de saída, ou seja, o valor que a entidade receberia pelo serviço. Assim, a sugestão é que a entidade acumule o custo dos bens tangíveis em conta de estoque, utilizando o critério de precificação adequado para depois proceder à baixa quando o bem for ofertado, bem como acumule em conta de receita o serviço disponibilizado.
Inscreva-se em nosso blog
e receba matérias como essa diretamente em seu e-mail. Acompanhe nossas redes sociais:
The post ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR: PRÁTICAS CONTÁBEIS
appeared first on GBA.
É por demais relevante a mensuração justa do custo da gratuidade. Para os bens tangíveis, o custo da gratuidade deve corresponder ao valor de entrada, ou seja, o custo de desembolso dos bens ofertados. Para os bens intangíveis, o custo deve corresponder o valor de saída, ou seja, o valor que a entidade receberia pelo serviço. Assim, a sugestão é que a entidade acumule o custo dos bens tangíveis em conta de estoque, utilizando o critério de precificação adequado para depois proceder à baixa quando o bem for ofertado, bem como acumule em conta de receita o serviço disponibilizado.
Inscreva-se em nosso blog e receba matérias como essa diretamente em seu e-mail. Acompanhe nossas redes sociais:
The post ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR: PRÁTICAS CONTÁBEIS appeared first on GBA.